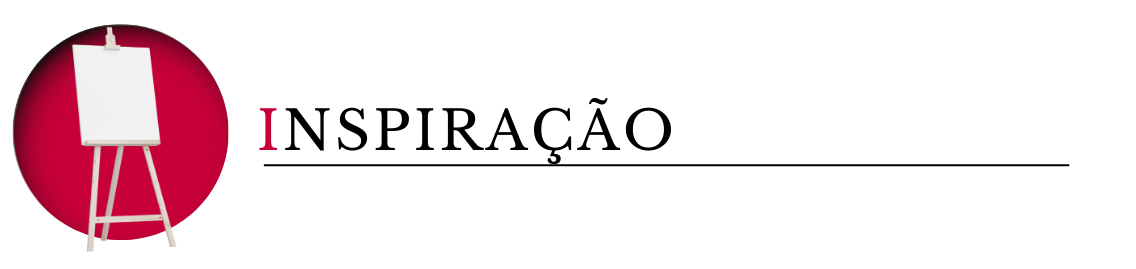“Mas agora vou fingir que eu não sou apenas fruto de um acidente cósmico ou de um orgasmo intravaginal; vou fingir que o homo erectus aprendeu a andar de pé só para que um dia eu pudesse dançar e correr; que os sumérios desenvolveram a escrita para que eu pudesse escrever poesias, pra que eu dissesse mentiras ou um "eu te amo" que eu ainda hoje não fui capaz de dizer; que os homens inventaram os deuses só pra que eu tivesse a quem correr quando me sinto impotente; que a câmara escura foi criada pra que eu um dia fotografasse as pessoas que eu amo; que Freud inventou a psicanálise pra que através dela eu pudesse chegar mais perto de mim mesmo. Mas mas mas sempre que me aproximo de mim eu me assuto e recuo, porque eu me criei na ilusão de que para que o deus fosse bom eu deveria ser ruim e culpado, e de que o certo e o belo seriam para sempre minha contraforma.”
{Randolpho Lamonier, em ‘Teoria geral do Bablu Atômico’}
Você já esteve dentro da cabeça de alguém?!
Eu já.
Lá dentro, todas as luzes são vermelhas.
Lá dentro, há um ruído constante.
De quê?! É quase impossível dizer.
Gemidos e sussurros, orações desesperadas. Não sei.
Há imagens também, projeções apenas sonhadas, de mergulhos no inconsciente. Há telas que erotizam os corpos na TV. Lutadores de MMA, mulheres ensinando ginástica na década de 80, a nave da Xuxa pegando fogo, as vinhetas da MTV, estranhas e colossais.
Dentro da cabeça de alguém, estão todas as palavras que esse alguém não ousa dizer, marcadas a carvão nas paredes, recortadas e costuradas também, em tecidos bonitos.
Há esqueletos no armário e fora dele, forcas penduradas, caixa de material perfuro-cortante, cartazes de desaparecido, um chiclé emoldurado e máscaras, muitas máscaras, claro.
Há crochê e desordem, coisas tiradas da despensa, do quarto dos fundos, do oratório, de dentro.
Eu posso estar soando mais metafórico do que o normal, eu sei. Mas eu não poderia ser mais direto, mais orgânico, mais material mesmo aqui. Tudo o que descrevi até agora está na instalação “Teoria geral do Babalu Atômico”, de Randolpho Lamonier, parte integrante da 14ª Bienal do Mercosul que visitei em Porto Alegre na semana passada.
A obra ocupa uma das salas da Casa de Cultura Mário Quintana e entrar nela é atravessar um portal.
“Eu sinto como se não devesse estar aqui”, disse uma das minhas alunas. “É como se eu visse algo íntimo demais, não sei. Eu me sinto ao mesmo tempo culpada e exposta!”.
Eu sorri com o comentário dela.
Porque sim — é isso.
Estar diante da obra do Lamonier não é exatamente como olhar uma arte.
É como esbarrar em alguém por dentro.
É como se, por um instante, a porta entre o inconsciente e o mundo tivesse se escancarado — e você estivesse ali, no meio do caminho, entre o que se esconde e o que sangra, entre o que é confissão e o que é performance.
Dói e fascina.
Assusta e chama.
É feio e é belo.
Como nós.
“Teoria geral do Babalu Atômico” não é só uma instalação. É um espelho estilhaçado em que a gente se enxerga em fragmentos — mas fragmentos sinceros, brutos, às vezes ridículos, às vezes sagrados.
E, ao contrário do que costuma acontecer com os espelhos normais, esse não distorce. Ele revela.
Saí de lá com a sensação de que tudo que me habita — as palavras que não disse, os medos que não nomeei, os desejos que finjo que não são meus — também fazem parte da minha história.
E talvez essa seja a grande sacada da arte que importa:
Ela não embeleza o que somos.
Ela escancara.
Talvez seja por isso que eu tenha voltado para casa mais íntimo de mim mesmo.
Mais bagunçado.
Mais verdadeiro.
Mais disposto a dizer aquilo que sempre achei que devia calar.
Talvez eu tenha voltado me sentindo como um babalu mastigado, esmagado tantas vezes e, ainda assim, infinito. Já sem gosto, sem recheio, sem cor. Mas ainda parte do que é eterno, como a bala que não acaba nunca de um texto da Clarice Lispector.
Porque tem dias em que a gente não se sente pessoa — se sente resto. Um resto que gruda no fundo da bolsa, que ninguém quer, mas que segue ali, sobrevivendo ao tempo, à poeira, ao descaso.
E tem horas em que a alma parece mesmo esse chiclete antigo: perdeu o sabor, perdeu a graça, mas segue resistindo, esticada entre memórias e vazios, entre tudo o que já foi sonho e tudo o que virou rotina.
Mas talvez — só talvez — o segredo esteja exatamente nisso:
em não se desfazer fácil.
Em continuar, mesmo que mastigado.
Em existir, mesmo que sem brilho.
Em ser presença, ainda que ninguém repare.
Porque talvez o eterno não seja o que explode — mas o que persiste.
E se há algo bonito em ser babalu, é saber que, mesmo sem o encanto de antes,
ainda há corpo.
Há matéria.
Há rastro.
Há arte!
E, quem sabe, — se a gente parar de buscar o sabor perfeito e começar a escutar o que o corpo mascado quer dizer — a gente finalmente se reconheça como parte desse mundo gasto, mas real, com dentes.
Como uma nota que ainda vibra mesmo depois da música ter terminado.
Como um segredo que sobreviveu ao esquecimento.
Como tudo aquilo que, mesmo que ninguém perceba, ainda pulsa.
Em uma sala vermelha, que revela a mente de alguém.
Provavelmente a minha.
🎩 Das coisas que a arte diz.
📚 Queria ter o talento e a paciência de fazer uma dessas com as leituras de cada ano.
❤️🔥 Só li verdades.
🔥 Entrando no clima já.
📢 A T E N Ç Ã O !
A versão gratuita desta newsletter é quinzenal. Mas se você quiser receber meus e-mails toda semana, com conteúdos exclusivos e reflexões imperdíveis, basta mudar sua assinatura para a versão paga.
✨ Não perca nenhum insight importante! Mantenha-se conectado e acompanhe de perto tudo o que preparo especialmente para você.
👉 Faça o upgrade da sua assinatura agora mesmo e continue fazendo parte dessa jornada semanal comigo!
Agradeço sempre por seu apoio e por fazer parte desta comunidade. <3